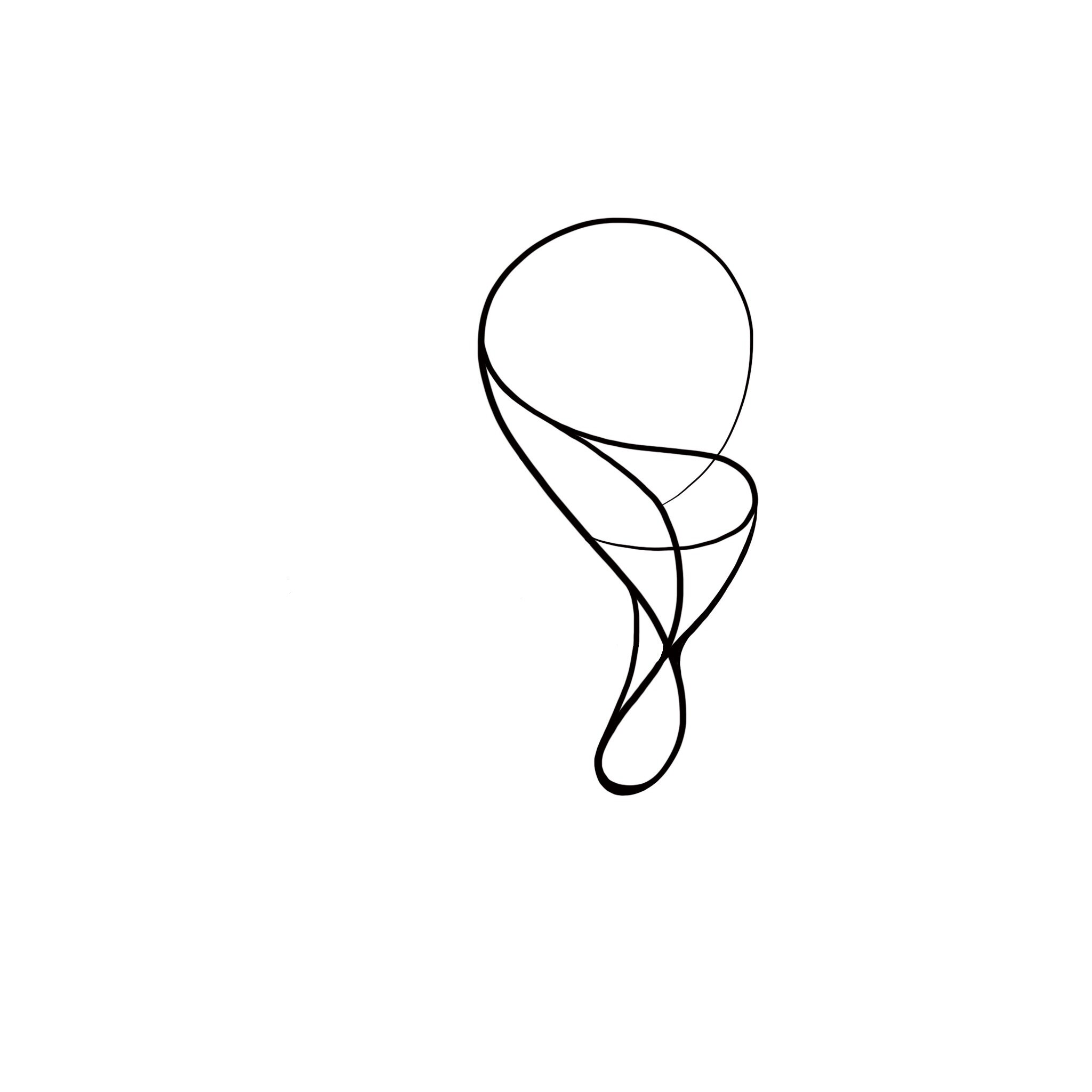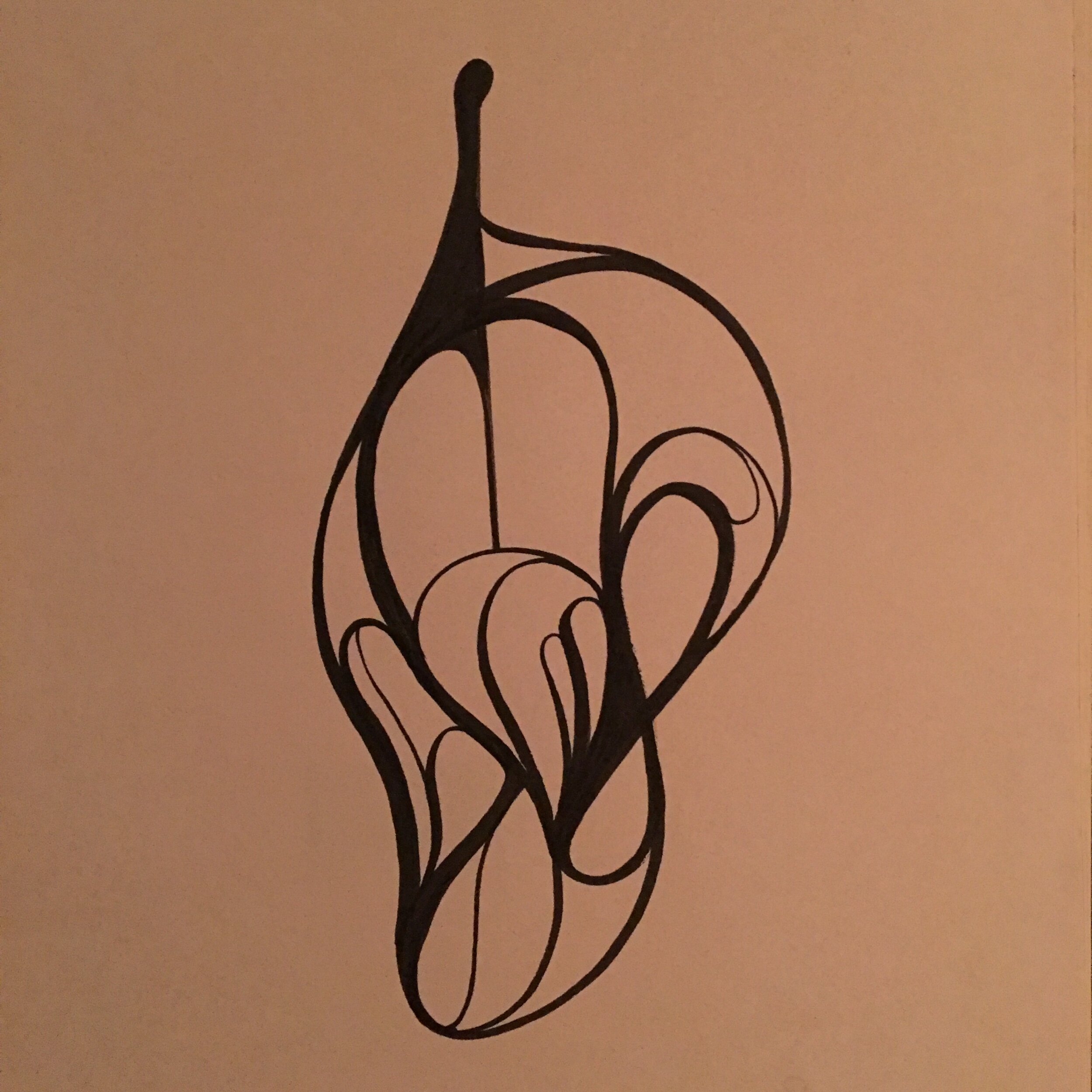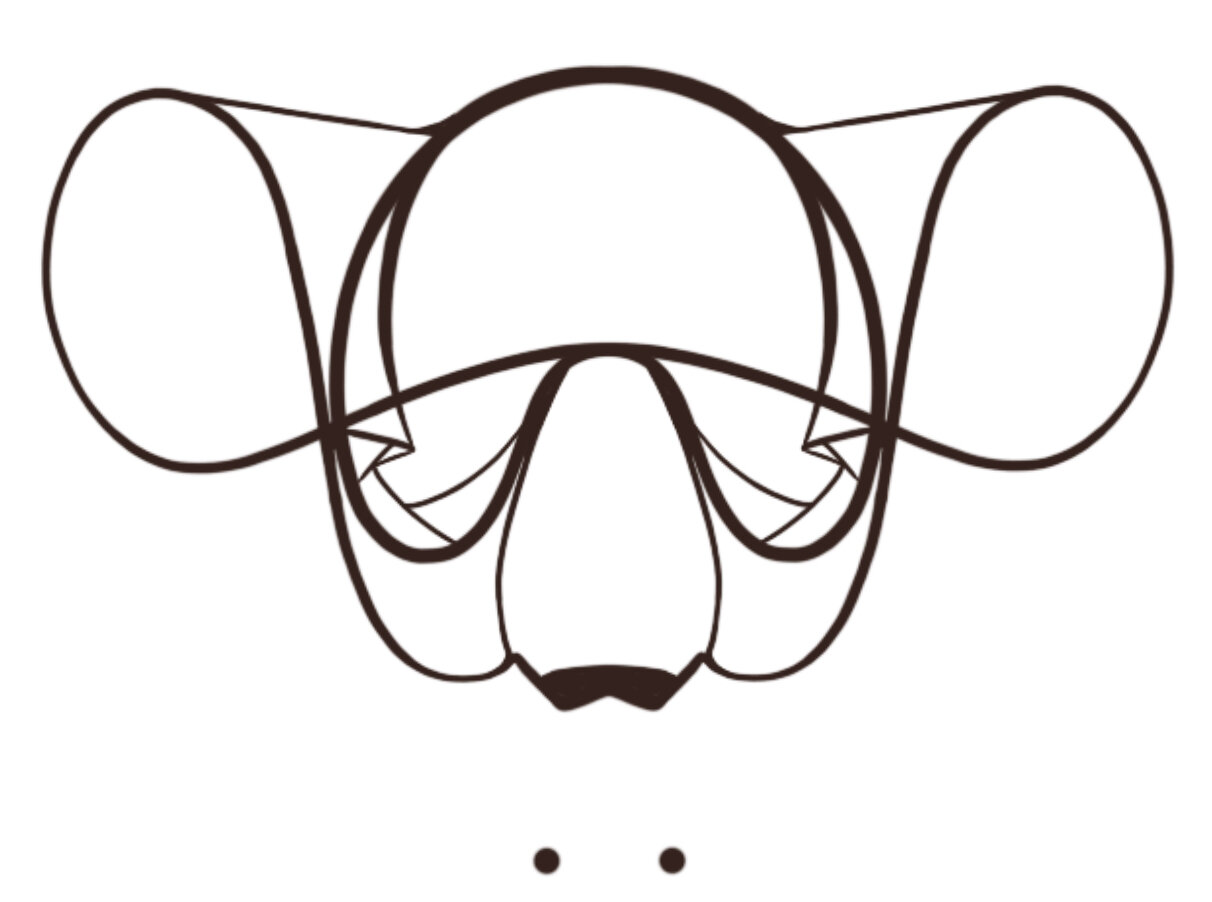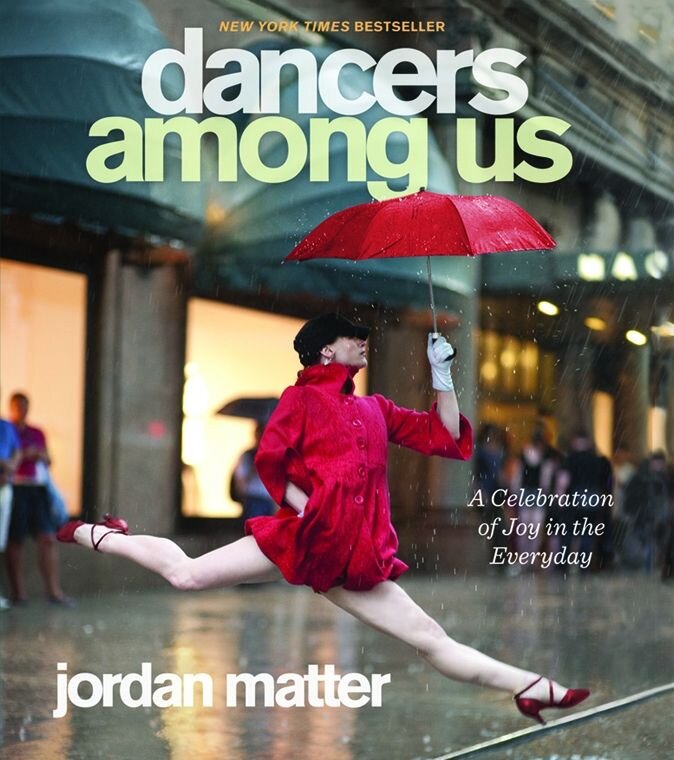Estive trabalhando nos biogramas por décadas já. Posso dizer que eles são a síntese do meu desenho.
Como muitas crianças, eu tinha uma certa compulsão por desenhar enquanto as aulas de toda a sorte de matérias aconteciam em minha frente na escola. Como uma criança-desenhista, eu tinha meus temas de preferência: soldados, guerras, armas, ‘plantas técnicas’ de mansões impossíveis (vista aérea) e, por vezes, a natureza em sua versão idílica: prados e riachos límpidos e o refulgente Sol no canto superior da página - sol cujo qual depois de meu ‘encontro’ com Georges Méliès (ainda em tenra idade) passou a apresentar um rosto que por vezes era simpático, por outras, feroz.
Fui estudando e aperfeiçoando o meu traço até meus 10 ou 11 anos de idade. O fato é que neste período algo surgiu em minha vida que mudou minha percepção sobre desenho e sobre arte para sempre: a impressora.
Meu pai havia recentemente adquirido uma impressora para a nossa casa. Junto com a chegada daquela bela máquina, chegou também uma ideia que “freiou“ meus avanços técnicos no desenho: não fazia mais sentido algum buscar o realismo ou o surrealismo através do desenho (ou mesmo na pintura) dado o simples fato de que já existiam ao dispor de qualquer pessoa aqueles fantásticos dispositivos de reprodução chamados impressoras. O surgimento das impressoras me ‘aterrorizaram’ talvez ainda mais do que as próprias telas, dado o fato de que a reprodutibilidade da imagem no plano físico tratava de uma revolução radical na interação entre o ‘plano virtual’ e o ‘plano físico’*.
Um ‘ponto zero’ na vida das imagens.
Mas para onde a coisa avançaria? A tela, claro… a tela já era por si só uma impressora-viva, imprimindo imagens em nossas retinas a todo segundo - e eu sabia que isso iria avançar ainda mais e mais ao ponto de ‘chegar em nossos corpos’. Na época, isso foi uma epifania. Usei então a própria recém-chegada impressora para imprimir uma mandala, uma monalisa e o mictório de Duchamp. Colei em meu mural. Ficaram comigo por anos, como uma espécie de lembrança de que a vida das imagens seria outra a partir daquele ponto do impressão.
Dois foram os efeitos da chegada desse novo aparelho-paradigma na minha, ainda infantil, cabeça: o primeiro é que eu me lancei às mídias digitais: passei a me interessar por filmes, videos e também em poder produzir imagens ainda não vistas com os efeitos do computador. O segundo efeito foi que parei de buscar a perfeição ou o realismo no desenho. Do desenho, a única coisa que ficou foi o prazer do rastro no papel. Em outras palavras, a libido do gesto no espaço (na folha, no ar).
A terceira vulva.
Fazia gestos e mais gestos em folhas e outras superfícies. O que surgia alio para mim era altamente sensual, cheio de sentido. Lembro que uma forma me chamou a atenção e chamei ela de ‘signo fundamental da beleza’.
A partir do signo fundamental da beleza eu poderia derivar. O conceito de ‘line of flight’ de Deleuze e Guatari me informaram sobre a possibilidade de derivações em arco. Pontos de fuga ‘impossíveis’ pareciam desenhar um campo que de alguma forma ‘brigava’ com o plano cartesiano modernista.
A gênese da biogramaturgia.
A partir daí, nunca mais parei de desenhar isso. Quase diariamente, passei a praticar estas quase-formas como uma quase-terapia. Algum tempo depois, passei a chamar estes desenhos de ‘biogramas’.
Desde então nunca mais busquei o avanço técnico clássico para meu desenho. Ao invés disso, comecei a buscar uma espécie de síntese. Muitos anos depois, Bernardo Paz, o criador do Inhotim, me falou algo que ressoou comigo e de alguma forma com os ‘biogramas‘: “a simplicidade é a sofisticação máxima”.
Obviamente sei que esta frase não é originalmente dele, alguns atribuem a Leonardo da Vinci. Mas o curioso disso é que nenhum destes caras são exatamente simples. Seja Bernardo ou Da Vinci, todos me parecem personas absolutamente complexas. Complexas ao ponto de, ao menos, perceberem a importância e a primazia da simplicidade.